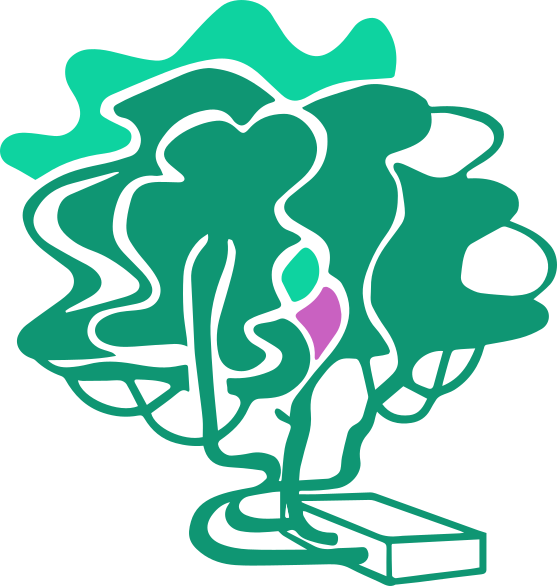Da antropofagização do código ao hackeamento narrativo: como tecer incomunidades? 1
Luciana Ferreira e Márcia Nóbrega
Tupã nos deu o barco, mas não deu o remo.
Nos deu então a inteligência para criar,
atravessar as corredeiras
para chegar onde queremos(Liderança indígena, região do Alto Rio Negro)
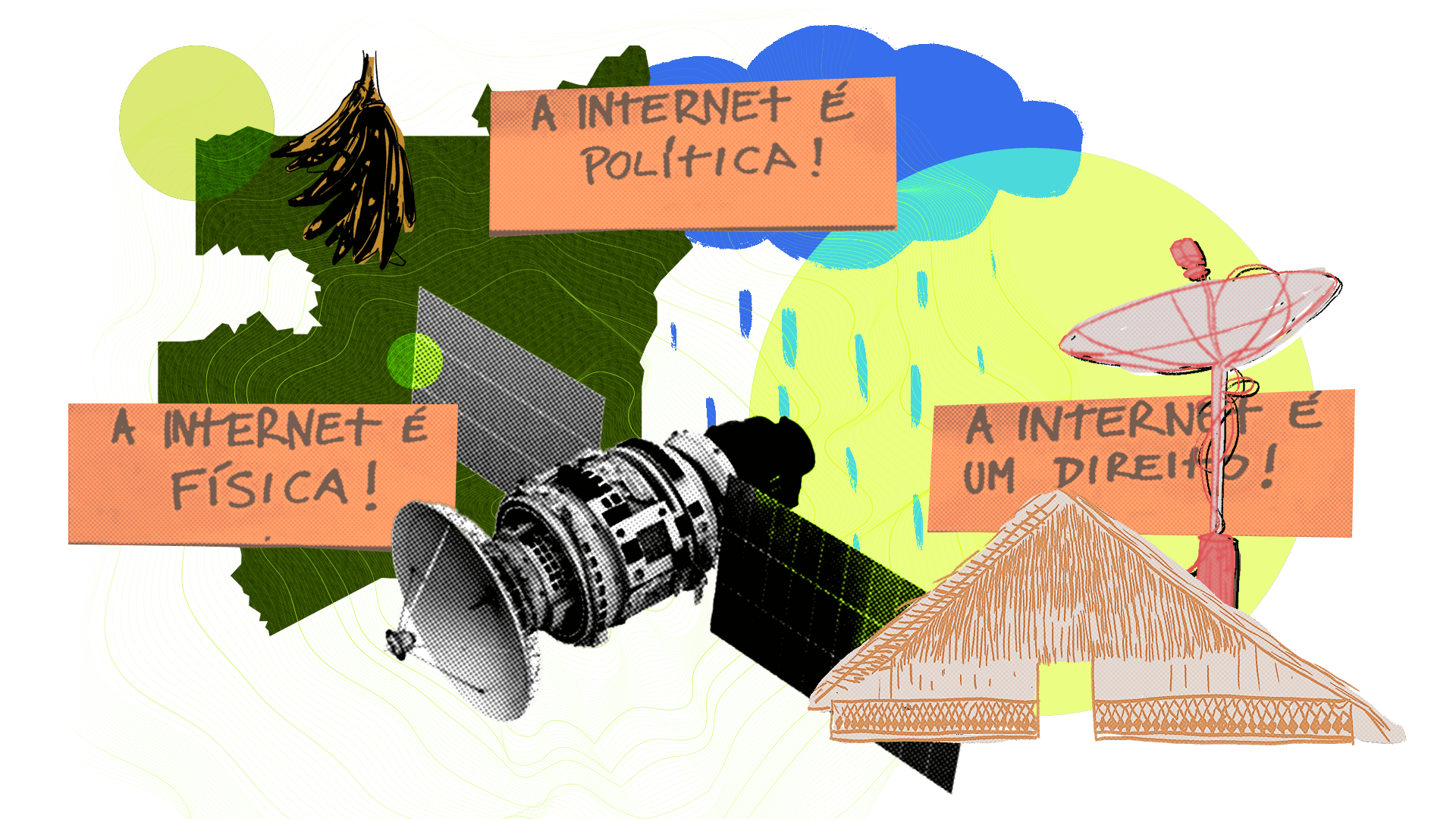
Do Alto Rio Negro aos Pampas
Havia um mapa. Um mapa que cobria toda a quarta parede do escritório da Organização Indígena. A liderança local, desde aquele retrato, nos descreveu a forma do domínio territorial de seus povos. A escala vetorizava distintos fluxos de rios, afluentes; sobrepontuava comunidades com as recentes torres de captação de internet satelital que, durante a Pandemia de Covid-19, chegou àquele território. Mergulhamos nele. É preciso aprender a remar, a liderança nos soprou aos ouvidos. Aprendeu a falar a nossa língua. Não o português que também é a sua. Com maestria, no dia posterior ao nosso primeiro encontro, introduziu a oficina em Cuidados Digitais que nós facilitamos para sua equipe. Falou de mapas, georreferenciamento, monitoramento, falou também da importância da segurança, da rede, da internet. Tornou dele o nosso código-linguagem. E nos convidou a conhecer o seu, que desconhecíamos. Nos apresentou, desde sua voadeira dias depois, seu domínio sobre as cachoeiras submersas que ligam dois dos pontos vetorizados no mapa: uma semirreta entre São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel do Rio Negro.2
Parte dos cerca de 200 jovens comunicadores guaranis, reunidos sob o toldo do sol de meio dia, distraíram-se produzindo fumaça desde seus cachimbos em madeira adornada. Enquanto aguardavam o início das atividades, aproveitavam da abundância do tabaco disponível: fumaremos até o fim, disse-nos um deles, supomos, em sua própria língua. Acontece que na Terra Indígena Guarani onde acontecia o Encontro de Jovens Comunicadores, para o qual fomos convidadas a facilitar uma oficina também sobre Cuidados Digitais, não havia sinal de internet ao redor. O sinal frágil de wifi na escola e na loja de artesanato, ao contrário do tabaco, lhes era indisponível. Esses jovens comunicadores, no entanto, carregavam em suas bolsas além do cachimbo, seus aparelhos celulares que a tudo registravam. Ou talvez mais do que isso.São Gabriel da Cachoeira, considerado o município mais indígena do Brasil, abriga cerca de 40 mil habitantes. A cada dez pessoas, nove são indígenas. A região do Alto Rio Negro, onde o município está situado no estado do Amazonas, é conhecida como a “cabeça do cachorro”: o mapa do território assemelha-se à cabeça do animal. A narrativa indígena coloca em continuidade àquela porção do país a Baía de Guanabara, que nas narrativas indígenas chamam por “Lago de Leite” (cf. Diakara, 2021; Lasmar, 2005); foi nesse percurso que a humanidade começou. Trata-se da fronteira tríplice, entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Muitas línguas são faladas, nheengatu, tukano, baniwa, yanomami, português, espanhol etc. Caminhar pelas ruas de São Gabriel é como percorrer uma torre de babel, só falta a confusão. São diferentes línguas sussurradas, gritadas, ouvidas. Todos parecem se entender. Sua cosmopolítica soa cosmopolita: não é raro que uma só pessoa fale duas, três línguas. Reconhecem mutuamente os seus códigos, as palavras, os gestos, a comida. O incomum é o ponto de partida de construírem-se enquanto comunidades.3
Fora do toldo, um amigo indigenista nos chama de canto para dar as boas-vindas e situar-nos no encontro, que começara há um dia. Uma preocupação generalizada pairava no ar: o exercício daqueles dias sem internet, em contraste com o acesso livre à rede a que alguns dos jovens dispunham em seus territórios, traria à tona uma série de controvérsias até então não refletidas, ao menos não sistematicamente, por aqueles povos. A saber: o que fazer diante da superexposição destes jovens à internet a partir da instalação de antenas nas aldeias, como política de inclusão digital, diante da imposição da quarentena pela pandemia de Covid-19? Não há limite, ele nos disse, usam o sinal de internet até o fim. Não há interdito proibitório que resista à sagacidade tecnológica da juventude indígena: cada senha reinventada produz um hacker a desvendá-la. Nas ruas de São Gabriel vimos muitas pessoas com celulares nas mãos. Estariam usando a Internet? Enviando mensagens de Whatsapp, e-mails, navegando no feed do Facebook ou Instagram? Talvez não. São Gabriel não possui empresas operadoras de internet. Não possui uma rede de internet a cabo. Assim como na floresta, toda a internet utilizada na cidade advém de satélites. Uma tecnologia que, não obstante ser extremamente cara e complexa, não deixa de ser precária. A baixa qualidade de conexão, no entanto, era inversamente proporcional à velocidade com que as jovens lideranças indígenas aprendem a usar as redes. É preciso aprender a remar, ressoa a voz da liderança. Conhecer novas possibilidades, ampliar esse domínio, é fortalecer o movimento indígena. Trata-se, ainda que não apenas, de uma ferramenta de mobilização. Como aliar-se a ela, sem ser por ela devorada? Como aparentar-se ao código em uma abertura ao movimento?Uma metologia
Colocamos em linha de encontro através deste empenho de pesquisa algumas conexões que partem de conexões entre mundos, feitas com os grupos e não para eles.4
Para tal, compomos com dois espaços-mundo geograficamente opostos no Brasil indígena. Um ao norte do país, em uma Amazônia onde o sinal de internet é ainda tímido, mas que avança dando aos povos que ali vivem a possibilidade de manejo ou controle quando este sinal chegar. Na outra ponta, indígenas que habitam o sul e sudeste do país onde o sinal de internet é potente, está em toda parte e que nas aldeias ganhou força durante a pandemia. Chegou sem pedir licença e se instalou em seus corpos. Com ambos realizamos encontros-oficinas sobre Cuidados Digitais, ocasiões em que exploramos leituras diferentes sobre a internet, infraestrutura, aplicativos, cosmologias e outras tantas linhas que nos oportunizaram distintas maneiras de pensar o que essa relação recente pode oferecer.
Como modo de inspiração para o arranjo das histórias aqui narradas, nos guiaremos pelo que Donna Haraway (2016) chamou de “geoestórias” (geostories) no livro Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene. Isto é, partimos da afirmação que é preciso se contar histórias com a T/terra e seus guardiões como saída possível às “alternativas infernais”5 colocadas pelo capitalismo: uma saída à feitiçaria do capital que nos propõe escolhas incontornáveis em direção a um fim inelutável. No caso do presente artigo, perseguimos histórias de como escapar do vaticínio de: ou bem somos consumidores ou bem somos produtores; ou bem somos usuários ou bem somos desenvolvedores.
Ainda, a metodologia deste artigo é fruto de um encontro entre uma antropóloga e uma pedagoga empenhadas no exercício de aprendizagem e tradução entre diferentes tecnologias, indígenas e não indígenas, no campo da segurança digital a serviço da defesa das florestas e de seus guardiões. Há nesse exercício de tradução um esforço de simetrização entre conceitos que partem de cosmotecnologias distintas. Somos conscientes de que este encontro acontece não sem equívocos. Isto é, para usar uma imagem sugerida por Eduardo Viveiros de Castro (2002), sabemos que toda tradução é também uma traição:
Meu ponto de vista não pode ser o do nativo, mas o de minha relação com o ponto de vista nativo. O que envolve uma dimensão essencial de ficção, pois se trata de pôr em ressonância interna dois pontos de vista completamente heterogêneos. (Viveiros de Castro, 2002, p. 123)
Nosso esforço, portanto, não persegue a forja de um consenso, mas a uma aliança entre conceitos. Assim, levando a sério os equívocos, dissensos e dissonâncias implicados nesse encontro, nos interessa pensar de que maneira as cosmologias indígenas se apropriam do código, seja ele o código digital (das máquinas e seus programadores), ou o código enquanto linguagem (o que possibilita a comunicação intra e interespécies), frente ao novo mundo que se abre.
A nuvem e os rios voadores
Eu fiz uma antena, está meio torta porque o sinal de satélite é muito forte. Os criadores da internet jogam um sinal para o satélite e ele manda aqui pra gente. Fiz muitos caminhos porque o sinal se espalha. É que nem a floresta, tem muitos caminhos. Fiz um satélite, que está jogando sinal pra casa Wariró (loja de artesanato indígena), onde as pessoas estão tentando acessar para ver o e-mail, mas não conseguem… Desenhei bonito, estou vendendo!! Quando eu comecei a usar a internet achava que tinha um foguete que lançava o satélite lá pra cima e ele mandava a rede pro nosso computador, que era muito grande antes… Hoje a gente tem que subir nas árvores pra ver se o sinal chega no celular!Em ambos os casos, ao conversarmos sobre os sentidos apresentados do que é a internet e como ela funciona, percebemos que existe uma vaga e pouco explorada ideia a respeito do que seja a tecnologia dos brancos que sustenta a internet. Dessa maneira, chegamos à conclusão coletiva de que parte dessa tecnologia é pensada para nos comportamos como meros usuários dela, consumidores passivos de uma mercadoria que vem de fora, do além-mundo dos brancos. A pergunta sobre como ela chega, de onde ela vem, nos coloca um impasse sobre a composição desses mundos em recente relação.
Pensemos nas nuvens: dissemos a eles que elas não existem. Não essas feitas de sinal de internet, nebulosa intangível onde depositamos, tal qual magia, o que produzimos enquanto dados (diferente dos sinais de fumaça que saem de seus cachimbos adornados). Melhor dito, no mundo da internet satelital, a existência da nuvem física só prova que a outra faz parte de uma imaginação cosmopolítica que não é a deles. Nas fricções entre F’s, a nuvem é a barreira física que impede que o sinal, também ele físico, chegue até seus aparelhos nas aldeias em horas de chuva. Ela é tão física quanto as árvores em que precisam subir para captar o sinal da internet que vem do céu, ou aquelas nas quais tropeçam enquanto distraem-se jogando desde seus celulares. A internet é tão física quanto cabos transoceânicos, antenas ou computadores.6
E isso fez todo o sentido para os indígenas, guardiões da floresta. Isto é, a existência ou não de uma nuvem enquanto materialidade empírica é inequívoca tanto para nós, não indígenas, quanto para eles. Sabemos que é bastante provável que o que entendem por nuvem exceda o que nós compreendemos conceitualmente enquanto tal (i.e., uma nuvem não é apenas uma nuvem a depender da relação cosmológica que se estabeleça com ela). No entanto, também é verdade que todos concordamos sobre o que é uma nuvem quando a apontamos no céu. Para pensarmos essas diferenças, seguimos as pistas apontadas por Marisol de la Cadena (2018) em artigo no qual aborda os encontros e desvios conceituais entre ambientalistas e guardiões na luta pela salvaguarda da natureza no Perú. Para isso, ela distingue dois processos conceituais distintos que compartilham uma mesma zona de fricção7: o dissenso e o equívoco.
Eu me baseio em Jacques Rancière e Eduardo Viveiros de Castro para conceituá-lo como um confronto que abriga um dissenso histórico – termo de Rancière – sobre um equívoco – termo de Viveiros de Castro – sobre o que significa um território e as relações que o compõem. Juntos, esses dois conceitos, dissenso e equívoco, podem funcionar de um modo que não lhes seria possível isoladamente. (de la Cadena, 2018, p. 98, 99)Sendo que o equívoco ela diz, a partir de Viveiros de Castro, que
abriga “a alteridade referencial entre conceitos homônimos” com a qual entidades que povoam mundos ameríndios se comunicam – ou se traduzem – entre si. É crucial para o conceito de equívoco o fato, em primeiro lugar, de que essas entidades – que consideramos humanas ou animais – consideram-se humanas e veem seus “outros” como animais; e em segundo lugar, de que o que elas são resulta de seu ponto de vista, que, por sua vez, resulta de seu corpo. […] O motivo das diferenças entre seus pontos de vista reside em seus diferentes corpos; a diferença não é [portanto] conceitual. (de la Cadena, 2018, p. 99 – grifos nossos)É preciso salientar que, tal como colocado, o equívoco faz parte de um movimento que vem sendo chamado de “virada ontológica”, sobretudo após os escritos de Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima a respeito do perspectivismo ameríndio, alguns dos quais foram agrupados no livro As Metafísicas Canibais (2009). Como ilustração, o exemplo mais famoso dado para a compreensão do que seja o perspectivismo é o da relação estabelecida entre humanos e jaguares. Isto é, do ponto de vista ameríndio, o fato de que humanos e jaguares compartilham o mesmo conceito de “sangue” ou de “cerveja”, não deixa de fazer com que um jaguar olhe para o sangue humano e o veja, desde seu mundo, como cerveja – e nos devore. A equivocidade fala, pois, da possibilidade de que distintos mundos e seus seres compartilhem conceitos que, no entanto, frequentemente se referem a composições diferentes de sua matéria. Para falar nos termos do autor, no lugar de um “multiculturalismo” de pontos de vista, o mundo ameríndio aciona um “multinaturalismo” para dar conta de uma incessante luta entre perspectivas que apenas se resolve pela consolidação de uma perspectiva que é “humana”. Já o dissenso, ainda que possa assemelhar-se ao equívoco, difere dele uma vez que se trata de algo da ordem do conceito, da validação do entendimento sobre determinada coisa.
Rancière, filósofo da política e da estética, conceitua o dissenso como “o conflito entre alguém que diz branco e outro que também diz branco, mas não entende o mesmo por isso”. […] o mal-entendido que provoca o dissenso (à la Rancière) resulta de “uma disputa sobre o que significa falar”; “uma disputa quanto ao objeto da discussão e quanto à capacidade daqueles que fazem disso um objeto”. Além disso, como uma interrupção política que altera a ordem convencional e estabelece discordância quanto à igualdade, trata-se de uma disputa que confronta aqueles que têm (aos quais se concede a capacidade de) discurso com aqueles que não têm (aos quais é negada a capacidade de) discurso – é uma disputa sobre as convenções que distribuem capacidades para definir o que é e como é. (de la Cadena, 2018, p. 99)
Ambos, portanto, referem-se a mal-entendidos. Enquanto o equívoco reporta-se a uma relação entre iguais (ainda que em termos ontológicos sejam mutuamente outros, pois seus corpos diferem), o dissenso parte das posições de sujeitos que, sendo ontologicamente os mesmos, estão em desigualdade sociológica e, diante disso, disputam para estar em equivalência agenciadora na atuação eficaz nos mundos em relação. Nos termos que tocam à nossa discussão: a quem interessa que a internet seja pensada enquanto uma nuvem-nebulosa e não como um emaranhado de fios (e também de satélites e antenas) que sobrecodificam as rotas mercantis da geopolítica mundial? Isto é, sabemos que tanto quanto física, a internet é política e um direito: a materialidade dos equipamentos é operacionalizada por pessoas, interesses e poderes em disputa. Esse questionamento fez parte de nossa conversa no encontro-oficina com os indígenas.8
Ou ainda, se levarmos a sério as nuvens, o que essa discussão tem a ver com a correlação entre as distintas tecnologias, as nossas, digitais não indígenas, e as deles, dos guardiões das florestas de norte ao sul do país? O que o dissenso entre nuvens provoca em estiagem na rota dos rios voadores, estes que levam desde o céu as águas dos mananciais andinos-amazônicos aos rios de nossa porção continental sul?9 Ou, para usar conceitos mais próximos aos deles, em que medida co-incidem estas nuvens com aquelas que pairam sobre a “cabeça do cachorro” e que desaguam sobre o Lago de Leite da Baía de Guanabara conforme a mitologia rionegrense – para, doravante, alimentarem os rios-paranás que os parentes indígenas Guarani margeiam?
O código aberto e as incomunidades
Em nossa oficina no Rio Negro, contamos uma história.10
Suponhamos que eu venha aqui um dia na casa da dona D. e ela me ofereça um chá, um chá muito gostoso com diversos ingredientes para fortalecer o sistema imunológico. Eu digo a ela que aceito, mas que tenho restrição à canela. Se eu tomar ou comer algo com canela posso ir parar no hospital! Então ela me diz alegremente que na receita de seu chá não vai canela. Então eu peço a receita para confirmar esta informação. Ela ainda alegremente, dá um sorriso e diz: ‘não posso dar a lista de ingredientes, porque a receita é um segredo de família’. Então o que devo fazer? Confiar na Dona D. com risco de ir parar no hospital? O que vocês fariam?
O grupo ficou intrigado. Seguimos dizendo que com os sistemas operacionais de código aberto ou fechado funcionam da mesma maneira. No código aberto (open source), os desenvolvedores abrem a “receita”, os códigos são visíveis para qualquer pessoa saber como são feitos e o que contêm. Já os sistemas de código fechado (proprietary source) não a liberam, podendo conter ingredientes ou misturas que podem nos fazer mal. Códigos fechados funcionam pelo que se define como “privacidade por desenho” (privacy by design), como se devêssemos confiar, por convenção, em seu mecanismo-receita pelo fato de que, ainda que não saibamos (ou que, no limite sejamos incapazes de saber), há alguém que sabe – e que, diante disso, nos entrega pronto o produto enquanto mercadoria. Resta-nos, portanto, sermos consumidores de chás e de programas. Diante disso e a partir de um diálogo com as cosmologias ameríndias, colocamos em suspeita de que, no final das contas, talvez não sejamos nós a consumi-los, mas serão eles – em suas partes desconhecidas – a nos devorar.
“Devemos, ou não, confiar?” Trata-se, pensamos, de um falso problema. Ou talvez de um problema que não está bem colocado, porque parte de uma moralidade alheia a cosmologias outras-que-não-indígenas. De partida, a formulação ameríndia enfatizaria o teor transicional do verbo: confiar só é possível em uma relação implicada com outros sujeitos. O verbo é transitivo e indireto, há sujeitos preposicionados nele. Confia-se em algo ou alguém – desde que os sujeitos compartilhem de uma mesma perspectiva, humana-para-si, sobre o mundo. Ou seja, o que argumentamos é que em um mundo onde as coisas não existem per si, de modo isolado e individual, até mesmo os códigos-receitas-abertos só são passíveis de confiança (i.e. são reconhecidos em sua eficácia), se partem de uma comunidade em relação, em ressonância perspectivista sobre o mundo.
Nesse sentido, convidamos o leitor a um breve sobrevoo a algumas teorias do pensamento indígena sobre a composição de mundos, que se dá através da produção de corpos, de suas transformações e do que eles se alimentam. Voltemos à analogia com a comida. A adicção da jovem Guarani ao jogo Free Fire a fez deixar de comer e de dormir, ao tropeço de dívidas. Modificou seu corpo, que já não mais pedia auxílio de cura aos Pajés. Estes, que em contrapartida a acusavam (e a todos que professavam a mesma conduta) de estar produzindo para si um corpo ruim.
Em artigo intitulado “Outras Alegrias…” Guilherme Heurich (2015) aborda o uso da cachaça em uma comunidade Mbyá-Guarani ao sul do país. A alegria da cachaça difere daquela proporcionada pelo uso de tabaco. Enquanto a última os aproxima da relação com as divindades, a primeira os afasta de seus parentes: “a cachaça não tem irmão, não tem família. Cachaça não tem parente” (p. 534), disseram-lhe seus interlocutores. Trata-se pois, na formulação do autor, de um vetor de antiparentesco. O estado de adicção à cachaça provoca o isolamento social de uma pessoa, tornando-a solitária, raivosa, aproximando-a da conduta reputada aos mortos. Estes que, saudosos, nos seduzem ao esquecimento do bem viver da vida para juntarmo-nos a eles na morte.
A escatologia Guarani diz que sendo um corpo um “feixe de afecções” (Pierri, 2013, p. 216), sua composição parte tanto de uma dieta fisiológica, quanto de condutas que os aproximam dos corpos das divindades. Devemos emular a dieta “leve” dos deuses que, avessa aos alimentos que apodrecem, e juntamente aos rituais, à brincadeira, à dança, compõe, por fim, o almejado estado de imperecibilidade corporal das divindades. O corpo ruim, ao contrário, é, senão um corpo-para-a-morte, um corpo que já não pode mais pertencer àquela qualidade humana. Agrupa-se, por assim dizer, a corpos outros que-não-humanos, o que inclui o corpo morto.
Em artigo ensaístico que reúne achados etnográficos de diversos povos indígenas da Amazônia, Carlos Fausto (2002) argumenta que é possível pensar a alimentação menos como a produção de “um corpo físico indeterminado, e mais como um dispositivo de produção de corpos aparentados” (p.8). Ou seja, o ato de comer com ou como alguém faz toda a diferença na composição dessas socialidades ameríndias amazônicas que estão em contínua transformação. A oposição entre ou bem atua-se pela predação (domínio da caça e da guerra) ou bem pela comensalidade (domínio da domesticidade e do aparentamento) torna-se, no argumento do autor, faces de um contínuo processo de familiarização.
A predação está, assim, intimamente associada ao desejo cósmico de produzir o parentesco. Todo movimento de apropriação detona um outro processo de fabricação-familiarização, que consiste em dar corpo ao princípio exterior de existência e fazê-lo interior. Isso significa dotá-lo das disposições características da “espécie” do captor e, assim, aparentá-lo. A partilha da carne e a comensalidade não apenas marcam as relações entre parentes, como as produzem. Comer como alguém e com alguém é um forte vetor de identidade, assim como se abster por ou com alguém. A partilha do alimento e do código culinário fabrica, portanto, pessoas da mesma espécie. (Fausto, 2002, p. 15)
Mas o que isso tem a ver com nossa conversa? O que argumentamos é que o compartilhamento da receita se faz entre comensais, com quem se come junto, que são, substancialmente, aqueles que não são caça (parentes ou animais não-comestíveis) ou com os quais não se entra em guerra (parentes potenciais, amigos). Em resumo, no universo ameríndio, a caça é a guerra em variável interespecífica. E, mesmo na caça ou na guerra, agenciam-se mecanismos de produção de parentesco: é preciso transformar, pelo código-comida ingerido, a porção de inimizade do outro como força de familiarização. Os ritos antropofágicos enfatizam essa premissa: no caso da morte de um humano, se provocada por um guerreiro da mesma espécie, é comum que seja oferecida partes de sua carne àqueles que não participaram do evento predatório. Enquanto a ingestão da vítima pelo matador pode envenená-lo, aproximando-o demais de um mundo que não é seu, se for consumido por outros, estes ao mesmo tempo em que absorverão para si as qualidades do morto também o ajudarão a tomar parte de seu novo mundo. Assim, dado os perigos e riscos que tais transformações carregam, estas não podem ser feitas sem uma série de restrições e cuidados, práticas frequentemente traduzidas pelos etnógrafos enquanto “políticas de resguardo” (cf. Belaunde, 2016).11
Da parte dos programadores não-indígenas comunitários de software livre, pode-se afirmar que a confiança em determinado programa de código aberto passa menos por um problema relativo ao conhecimento acerca dele (i.e. se sabemos ou não lê-lo), e mais por uma possibilidade de acessá-lo. Ou seja, ainda que não saibamos ler determinado código, sua abertura permite que, havendo parte nociva, ela pode ser, mais cedo ou mais tarde, revelada e denunciada, uma vez que seu escrutínio público está disponível a qualquer um. Da parte dos indígenas aprendizes, o que argumentamos é que, para eles, não há o “um” que seja qualquer; a posição do sujeito é relativa ao mundo onde se vive. Por isso, a abertura a outros códigos não se faz sem antes nos resguardarmos dos riscos inerentes às capturas de perspectivas de mundos outros.
Em outras palavras, para se afinizar a determinado código-mesmo-que-aberto, é preciso aparentar-se dele, das receitas e de seus fazedores. Nessas condições é possível tomarmos juntos chás e programas, mesmo que não saibamos exatamente do que ou como são feitos. Ou seja, estamos falando menos de uma disputa em termos epistemológicos, da ordem do conhecimento, e mais de uma disputa em termos ontológicos, de uma posição do sujeito que é sempre relativa ao mundo no qual se vive. Trocando em miúdos, a deglutição do código-receita, a antropofagização do código de outros para torná-lo seu, ainda que este seja construído de forma aberta, só pode acontecer quando há comunidade.
Mas de que comunidade estamos falando?
Em nosso encontro-oficina no Rio Negro enfatizamos que o código aberto, a partir da alegoria da abertura da receita e dos seus modos de preparo, é algo muito importante para a escolha de um sistema, aplicativo, plataforma, porque ele nos traz segurança, proteção.
Nosso grupo de mulheres usa muito mais o Signal do que o Whatsapp aqui. Porque ele é mais seguro, nos falaram. O Signal é código aberto também?
Uma das participantes nos pergunta, a tal Dona D. interpelada pela história da receita.
Notamos que apresentar a diferença entre os aplicativos que possuem ou não código aberto é central para avançarmos na ideia de uma internet livre e participativa. A internet é uma rede e seus aplicativos funcionam da mesma maneira, em rede. Uma pessoa diz a outra que está usando uma rede social, ou que determinado aplicativo de comunicação é melhor, e então um grande tecido em comum vai se constituindo. Forte, bem enlaçado, a ponto de consolidar verdades que só existem ali. Estaria naquele momento, Dona D. confabulando a criação, a reacomodação, de uma receita a ser compartilhada entre mulheres? Ou ao menos, nos parece que ela se sentia mais à vontade, protegida, com essa receita-código para tecer caminhos junto ao grupo de mulheres do qual faz parte.
Ao lançar essa possibilidade, ao instigar no grupo de indígenas a necessidade de concretizar um projeto de internet que viabilize o uso de tecnologias protetivas por código aberto, mais próximas ao que o movimento indígena almeja e necessita, percebemos uma alteração na postura das pessoas participantes. A liderança responsável pelo grupo de jovens animou-se:
A gente quer a internet, mas precisa cuidar dela, ter formação sobre ela para colocar nos territórios, pois a juventude está abandonando a cultura por conta do jogo, por conta de ficar postando foto das meninas.
Era necessário serem rápidos, agir com astúcia
Precisamos de um cabo aqui em São Gabriel para a internet ficar mais rápida. Me disseram que o cabo ia chegar, mas que só os militares e o hospital iam receber.
Movimento indígena, movimento de mulheres indígenas, movimento de juventudes indígenas em aliança conosco, ativistas não-indígenas, confabulamos maneiras de articularmo-nos, com proteção, diante do avanço da internet predatória, cujos caminhos sublinham o traçado geopolítico do poder, só os militares e o hospital iam receber. Nesse jogo de alianças, de conjunções entre grupos que têm interesses em comum, mas que não são os mesmos interesses, é que reside a ideia de comunidade que estamos tentando perseguir. Uma aliança entre indígenas, mulheres, jovens, ativistas; mas também entre cachimbos e fumaças, nuvens, rios voadores, cabos, antenas, satélites. Sem com isso negar o que há de diferenças entre as partes em composição, justamente, com seus dissensos e equívocos.
Essas alianças são, no entanto, complexas. Ocupando o mesmo espaço (que não pode ser mapeado em termos de um único conjunto de coordenadas tridimensionais”), formas heterogêneas (natureza universal, ambiente, água que resiste à tradução para H2O, terra que é objeto e não é, entidades que chamo de natureza ecologizada – ou natureza insubmissa à universalidade) convergem na rede por meio de acordos que não impedem as diferenças. (de la Cadena, 2018, p. 19)
Ou seja, o que os desenvolvedores de código fechado e sua rede mercantil chamam de nuvem-internet não é o mesmo que nós, ativistas indígenas e não-indígenas, entendemos enquanto tal: a essa altura todos concordávamos que o código-receita deve ser aberto e que sirva a uma comunicação a favor da proteção das florestas e de seus povos. Também sabemos que a própria ideia de nuvem-floresta possivelmente difere entre nós, rede de ativistas, a depender da relação que se estabeleça com ela. No entanto, isso não nos impede de realizar um processo de tradução entre termos, de trocar receitas, porque tomaremos juntos do mesmo chá de águas transcelestiais, ainda que possivelmente o chá e a forma de tomá-lo sejam diferentes – bem como a qualidade das nuvens sobre nossas cabeças. A essa composição de alianças, de acordos entre guardiões e ambientalistas-ativistas em cosmologias distintas, Marisol de la Cadena chama de “incomunidades”:
No entanto, ambos os casos abrigam a possibilidade de um acordo que, ao invés de convergir para interesses idênticos, seria sustentado por “incomunidades”: interesses em comum que não são o mesmo interesse. Esse acordo fala da possibilidade de uma aliança alternativa, que, juntamente com as coincidências, pode incluir a divergência constitutiva das partes: elas podem convergir sem se tornarem as mesmas. Esse acordo poderia incluir uma discussão sobre o mundo único como uma condição ontológica que os participantes da aliança não compartilham de forma homogênea e que, consequentemente, pode ser uma fonte de fricção entre eles. (de la Cadena, 2018, p. 19 – grifo nosso)
Mas, qual a receita? Como produzir incomunidades também com programadores, doravante desenvolvedores, e seus códigos abertos?
Entre-domínios: como borrar os contornos entre usuário e desenvolvedor
Voltemos ao mapa.
A liderança que nos conduziu pelos rios e ruas da região do Alto Rio Negro é alguém em trânsito, em constante deslocamento físico e também subjetivo. É atento a tudo o que é novo. Rápido como uma paca nos movimentos do pensamento, deglute com agilidade a informação e a utiliza de maneira sagaz, estratégica. Conhece o território como a palma de sua mão, sabe os perigos das corredeiras, os riscos que os rios impõem, assim como os animais da floresta e seus mistérios. Nos mostrou, no mapa, os mais de 50 pontos de internet instalados recentemente com apoio do Governo Federal. A liderança sabe que o governo tem interesse em explorar a região por conta dos minérios, de tudo que da floresta foi e ainda é apropriado enquanto recurso, mas mantém firme a ideia de que são os indígenas que chegaram aqui antes de todos. São eles que possuem as melhores táticas para sobreviver e para garantir a segurança do território.
O programa de internet recém-instalado nas sedes de algumas associações indígenas, via satélite, nos foi descrito como muito ruim. A internet conecta basicamente o Whatsapp para mensagens de áudio e texto, algumas vezes carrega fotos e documentos, quase nunca vídeos. É um recurso limitado, instalado para que pudessem se comunicar no período de isolamento da pandemia de Covid-19. Mas a liderança sabe que se trata de mais do que isso. A desenvoltura com que navega pelas corredeiras do Rio Negro, onde tem domínio, não é a mesma com a qual navega pelo mundo digital. Trata-se de um mundo ainda desconhecido, que não inspira segurança para que seja utilizado ou habitado por todo o povo indígena. É preciso aprender a remar. E, para isso, é preciso estabelecer com este mundo uma relação de domínio.
Em outra oficina sobre Cuidados Digitais, ao interpelarmos o grupo da organização indígena em questão a nos trazer uma palavra que resumisse para si a forma como se sente seguro, protegido, uma liderança da Amazônia ocidental sentenciou: me sinto seguro quando tenho domínio. Mas o que exatamente os indígenas estão dizendo quando falam de domínio?
Dentro do campo da informática, o termo domínio refere-se a um conjunto de endereços de computadores, uma soma de IP’s (Endereço de Protocolo da Internet, do inglês Internet Protocol address), que por sua vez funciona como uma espécie de CEP, ou rótulo numérico, vinculando um dispositivo (computadores ou celulares, mas não apenas) à rede mundial de computadores. Sem o domínio, teríamos que memorizar uma sequência grande de números, tornando impraticável a navegação em rede para não especialistas. Em síntese, no campo digital, quando falamos em domínio estamos nos referindo ao nome de um site, seu endereço, que queremos acessar. Trata-se de um atalho conceitual, uma vereda em um emaranhado de caminhos entre dispositivos que nos levará ao nosso destino final.
Conforme argumentamos em seguida, ainda que o que estas lideranças nos dizem quando falam de domínio seja de outra ordem – ou, por assim dizer, de outra natureza – que não exatamente o referente em uso no campo digital, esses conceitos se comunicam. Ou pelo menos deveriam. Ambos se referem a disposições entre um sujeito e as localidades por onde navega, a uma relação com determinado espaço e a caminhos possíveis que nos levam a um destino em rumo. Esse será o nosso campo argumentativo nesta secção de texto. Para isso, através dos dissensos e equívocos colocados pelo termo “domínio”, faremos uma problematização sobre as convenções entre o que vem se chamando de “usuário” (aqueles que usam determinados programas, redes etc.) e de “desenvolvedor” (aqueles que os elaboram, seus criadores).
Destacamos três concepções presentes em dicionários da língua portuguesa sobre o significado da palavra “usuário. Trata-se de alguém ou algo 1. Que utiliza algo, que tem o direito de uso, mas não a propriedade; 2. Que serve ou que é próprio para nosso uso; 3. Dizia-se de escravo de que só se tinha o uso, mas não a propriedade. Ou seja, o termo “usuário” correlaciona-se intimamente com outros como “uso”, “propriedade”, “serviço”. Não obstante, a mesma língua portuguesa costuma vincular tais termos ao significado das palavras “dono” ou “mestre” que, conforme a tradução de etnólogos, relaciona-se, por sua vez, ao termo “domínio”, tendo estes três últimos alta pregnância nos idiomas e cosmologias indígenas.
Para os Suyá, kande; para os Yawalapiti, wököti; para os Kuikuro, oto; para os Tupi-Guarani, jar; para os Araweté, ñã; para os Sharanahua, ifo; para os Kanamari, -warah. Com diferenças entre um povo e outro, tais termos designam o que traduzimos como dono, mestre, chefe, corpo, tronco, rio principal. Antes de uma lista exaustiva de termos e suas traduções, o que queremos aqui enfatizar são justamente suas variações relacionais. Isso porque, voltemos a Carlos Fausto (2008) em artigo sobre domínio e maestria na Amazônia, trata-se de termos (subsumidos aqui sob a fórmula domínio/maestria) que engendram tecnologias de parentesco permeadas por relações que, quando não diretamente espacializadas, são remetidas a outros mundos que estão sempre sob o risco de derivação.
Segundo boa parte da mitologia ameríndia, cada domínio existente partiu de uma disposição mítica primordial, um marco zero do cosmos, capaz de conter “toda pluralidade das diferentes singularidades virtualmente existentes” (Fausto, 2008, p. 332). O método relacional de parentesco para o domínio, sugere o autor, é o de “filiação adotiva”, que, por sua vez, é construído a partir do que chamou de “predação familiarizante”. É-se dono daquilo que fabricou (filiação), mas também daquilo que tomou para si (caçou, conquistou, adotou). O predador recupera de sua presa capacidades inerentes a certos domínios que lhes são outros – o que pode ser bastante perigoso. No entanto, se bem (in)geridas, as partes da presa contraefetuam-se em um corpo familiar, constituinte de uma nova (in)comunidade. Foi o que em parágrafos acima procuramos demonstrar ao abordarmos o compartilhamento de receitas-código em abertura e sob políticas de resguardo.
Dito isto, voltemos ao espaço, seus donos e o mapa.
Diz-se sobre o universo ameríndio amazônico que tudo, em princípio, tem ou pode ter um dono: “a floresta, os animais, os rios e as lagoas, mas também uma espécie animal, outra espécie vegetal, ou ainda aquele bambuzal, aquela curva de rio, determinada árvore, uma montanha particular” (Fausto, 2008, p. 340). Esses domínios, é preciso salientar, não se configuram enquanto unidades socioespaciais discretas, porções separadas em descontinuidades territoriais que podem ser destacadas, vendidas, compradas. O que implica também afirmar que ser o “dono de um rio” não é o mesmo que dizer que “o rio é propriedade privada” deste dono. Trata-se de cosmopolíticas distintas. No caso ameríndio, um dono estabelece uma relação de domínio em relação a algo ou alguém. Antes de “ter”, é reconhecida ao dono uma “uma capacidade de ‘conter’ – apropriar-se ou dispor de – pessoas, coisas, propriedades e de [assim] constituir domínios, nichos, grupos” (Sztutman apud Fausto, 2008, p.335). É próprio do dono-mestre responder por algo, ser seu responsável perante um coletivo em relação, e, talvez o mais importante, modular mundos em contínua transformação.
Daí porque falar em propriedade seja talvez pouco apropriado, pois o próprio ao dono é ser alterado. O caráter múltiplo e fractal das relações de domínio requer pessoas internamente compósitas, “diferentes de si mesmas” […]. O modelo do agente não é, assim, o do proprietário que anexa coisas a um Si imutável, mas o do mestre que contém múltiplas singularidades. (Fausto, 2008, p. 341)
Os povos indígenas pertencem ao mundo com o qual se relacionam, estão em ação, em movimento com ele. Não são meramente usuários, espectadores das coisas do mundo e tampouco desejam ter a propriedade privada dele.
Este é um debate importante, pois o fato dos povos indígenas do Brasil se oporem à ideia de propriedade privada da terra e dos elementos naturais que formam a Terra, explica porque eles são os agentes principais em atuação contra as mudanças climáticas. Em seus termos agem também pela defesa da liberdade de ir e vir, de um mundo sem cercamento. Nesse sentido, conectamos a luta do movimento indígena com o movimento de liberdade da internet e a defesa da comunidade de software livre, bem como contra a prática de engajamento ao código proprietário – este que se opõe ao código aberto. Aqui nos remetemos à ideia do incomum: um espaço onde as coisas e as pessoas de ordem e natureza distintas (que têm interesses em comum que não são os mesmos interesses) possam compartilhar de um mesmo mundo, sem que para isso seja necessário ter o controle dele enquanto propriedade a partir de uma compartimentação em limites controlados por forças externas, como as do Estado.
Uma comunidade possui códigos abertos justamente para que todos possam contribuir para a melhoria do sistema e, ao mesmo tempo, deixá-lo mais próximo das pessoas que compõem a comunidade. Os códigos abertos são como as trilhas da floresta, as picadas que se abrem para que outras pessoas possam entrar, caçar, colher alimentos em segurança. Os códigos são como os saberes da floresta, complexos de ler. Toda travessia é perigosa, sobretudo se desconhecermos quais são nossas companhias. Em uma aldeia existem pessoas que conhecem as plantas, que conversam com elas, conseguem extrair diferentes remédios para a cura dos males. Os pajés também conhecem bem as ervas que podem matar. Os programadores também são assim: podem manipular os códigos para que a vida, a criação, aconteça. Mas também conhecem os códigos que podem paralisar, manipular, viciar, monitorar, vigiar os corpos, tornando a experiência ruim. No software livre, o código aberto é uma picada em floresta densa que não quer ser expropriada. Para atravessá-la, devemos nos proteger com bom manejo de ferramentas e de companhias. Mas quais ferramentas, companhias e de que manejo nos falam?
Aos indígenas do Alto Rio Negro pedimos, novamente, que desenhassem. Desta vez dividimos o grupo em duas metades, por gênero. O corpo de um homem e de uma mulher em decalque sobre papel pardo ao chão foram equipados por tudo aquilo que consideram necessário para uma travessia segura. Junto à mulher, outras mulheres indígenas lhe desenharam capacete, celular, relógio, mochila, sapatos, e ainda alho, batom, cílios e olhos bem abertos. Já o homem ganhou de outros homens, também indígenas, celular, chapéu de palha, facão, isqueiro, rede e uma bolsa, bem como pintura corporal, cigarro e aliança para quem é casado.
Nos disseram:
Aqui levamos muitas coisas. No bolso a gente sempre leva tabaco. Pra gente se proteger, nós que somos indígenas, precisamos desse tipo de proteção. Aqui o dinheiro, tatuado, se o cara não tem nada, se revistar, tá no braço!
Aqui o pacote está completo: facão, espingarda… queria mais tempo pra botar farinha, pimenta, sal. Mato é assim, imprevisto.
Voltemos a conversar com Viveiros de Castro (2008). De acordo com o autor, há no universo indígena uma aproximação entre o conceito de encontro e o de evento. Esse último se dá quando se está sozinho na mata, desprovido de bons pensamentos e sentimentos. A solidão, o luto, a depressão, a raiva, são afetos perigosos que podem levar a ter maus encontros na mata. Como exemplo de eventos-encontros, cita o povo Nambiquara, seus colares e espíritos, bem como a correlação que fazem com nossas carteiras de identidade.
Para os Nambiquara, a grande quantidade de colares de contas pretas que fabricam possui uma ligação metafísica com os espíritos “esses colares são como a carteira de identidade de vocês. Se perdemos os colares, se um espírito nos rouba os colares não somos ninguém. Se formos roubados, os espíritos fazem o que querem da gente” (Viveiros de Castro, 2008, p. 236). A comparação entre a carteira de identidade dos brancos e os colares dos Nambiquara nos traz elementos de inserção em determinado espaço. O colar, mais do que um modo de identificação, é um objeto protetivo. A carteira de identidade ou o passaporte na sociedade não indígena é determinante para sua sobrevivência: sem eles há grandes chances de haver um mau encontro com a polícia, por exemplo.
Ainda sobre a elaboração dos quase-eventos, Viveiros de Castro adverte que
As verdadeiras mortes por acidente espiritual são raras. Nos encontros com espíritos na mata, quase sempre nada acontece; mas sempre algo quase acontece. Esse é o ‘ponto’ desses encontros: a onça quase me pegou… eu quase respondi… quase fiquei para sempre no mundo subterrâneo das queixadas… quase me deitei com aquela cobra que parecia mulher… quase me comeram. O sobrenatural não é o imaginário, não é o que acontece em outro mundo; o sobrenatural é aquilo que quase acontece em nosso mundo, ou melhor, ao nosso mundo transformando-o em um quase-outro mundo (Viveiros de Castro, 2008, p. 238)
Este conceito pode nos apoiar quando observamos as relações e os encontros dos indígenas com a internet e seus caminhos em abertura, a partir dos relatos acima. Se os colares são uma forma de identificação e de proteção para enfrentar os mundos na floresta, e se a carteira de identidade ou passaporte são elementares para a circulação na sociedade dos brancos, quais seriam os elementos protetivos para adentrar o mundo internet? Qual colar, qual roupa, qual armadura os povos do Alto Rio Negro e os Guarani irão usar para que o encontro com a internet seja um bom encontro e não um encontro de quase-morte?
Certa vez em um encontro, dessa vez virtual com o povo Guarani, uma liderança expressou tal preocupação: Os Guaranis fizeram o mundo. Os Juruás (não indígenas) chegaram, nós ensinamos eles a viverem aqui e passaram a viver conosco. Agora eles (Juruás) criaram outro mundo, que é a internet. Os Guarani precisam aprender a morar nele.
Os desenhos que alguns indígenas Guarani trouxeram na oficina com os jovens comunicadores revelam um mau encontro com a internet. Foram encontros solitários, depressivos e desprotegidos, produziram-lhes corpos ruins. No entanto, mesmo aí, podemos identificar o “quase” que nos fala a antropologia através dos Nambiquara. Se é verdade que há vício nos jogos e nas redes sociais, também é verdade que estavam ali, em comunidade, contando essa história. Os desenhos do povo do Alto Rio Negro, revelam uma outra linha do “quase”: não como uma história-limite, de um fim inelutável, mas como uma história incompleta. Como alguém que ainda está na entrada da trilha na floresta, recolhendo objetos protetivos, capacetes, batons, chapéus, redes, facões, alianças, montando colares para enfrentar o mundo novo.
O que nos contavam é que para sair da condição de simples usuário é preciso conhecer, ter domínio da tecnologia da internet. Saber com quem andamos, como entrar e como sair, como destravar, como escapar, conhecer os códigos, seus modos de preparo, para alterar os rumos da navegação, conseguir caminhar nas trilhas e até mesmo abrir novas picadas. Esta é a tarefa de um desenvolvedor. Ora, se a condição de usuário é avessa ao pensamento indígena e a posição de desenvolvedor exige um domínio que nossas lideranças ainda não possuem, nos parece mais proveitoso borrar estes contornos e ocupar o espaço do entre, onde a potência do encontro se estabelece.
Mas como estabelecer essas zonas de entre-domínios? Como fazer conversar o domínio que nos falam os mundos indígenas com este colocado pelo mundo digital? Vimos que as lideranças da região do Alto Rio Negro almejam adentrar mundos outros, tornar real a potência do virtual que atravesse a extensão de seus domínios, em seus termos. Querem ser consultadas, querem participar do processo de entrada da internet e das novas tecnologias de comunicação e monitoramento em seus territórios. Querem ser usuários e, por que não, também desenvolvedores; sua cultura transformacional permite que sejam mais de um ao mesmo tempo. Como estratégia, é preciso antropofagizar o código: devorar, comer o conhecimento e degluti-lo para que a luta ganhe força. É preciso estabelecer incomunidades, encontros, com desenvolvedores e programadores ativistas não-indígenas. Mas não apenas.
O hackeamento narrativo indígena: o caso do Mapa Guarani e de outras Baobáxias
A ideia de um fim acompanha a escatologia Guarani. A ideia de algo finito, que se encerra em uma unidade autocontida e delimitada, o “um”, apartada de toda relação que se coloca para fora e que a liga ao “mais de um” é tida como má. Eis a sua profecia apocalíptica: “As coisas em sua totalidade são uma: e para nós que não desejamos isso, elas são más”, nas palavras de um velho xamã Guarani (Clastres, 2015, p. 185) Este “um” seria o Estado, escreve Pierre Clastres, a instância absoluta, uma posição inegociável por definição. É diante do vaticínio de um mundo único que as sociedades indígenas se organizam contra. Buscam uma Terra sem Mal, onde o múltiplo se apresenta como o arco e a flecha no enfrentamento à totalização. Fumaremos o tabaco até o fim. Usaremos a internet até o fim? Mas contra quem, para quê e como?
Lançado em 2016, o projeto Mapa Guarani Digital12 surge com o objetivo de sistematizar informações territoriais do povo Guarani, incluindo tanto aqueles situados no Brasil, quanto os presentes na Bolívia e Paraguai. Os dados foram produzidos principalmente por uma rede de pesquisadores do Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/Raíz), com mapeamentos realizados desde a década de 1970 nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, mas também por outras pesquisas advindas do projeto Guarani Continental de 2008.
A ideia foi relacionar informações das terras indígenas Guarani com informações sobre as demarcações, sítios arqueológicos e conectá-las aos acervo da biblioteca Guarani disponível no CTI. Uma tática de monitoramento, por contramapeamento, de seus territórios. A exemplo do que a liderança rionegrina nos mostrou no mapa que cobria a quarta parede de seu escritório, a partir de uma cartografia digital os Guarani podiam escrutinar os seus domínios. Ao mesmo tempo em que o mapa os ajuda a visualizar a situação dos processos de demarcação das TI’s, os permite monitorar, por contraste, a preservação de suas florestas. Isto é, ainda que suas aldeias estejam localizadas em áreas muito desmatadas da Mata Atlântica, em comparação com o entorno, pode-se notar que é justamente nelas onde estão localizadas as áreas com maior concentração de floresta preservada.
O Mapa Guarani Digital foi pensado a partir de um caráter colaborativo, permitindo sua atualização de maneira descentralizada, alimentado por indígenas e indigenistas, que compartilham informações sobre as aldeias, dados populacionais e demarcação dos territórios. O banco de dados conta com pontos georreferenciados das aldeias e shapes das terras indígenas Guarani. Possui código aberto e foi desenvolvido em parceria pelo coletivo Hacklab13.
Criou-se, naquele momento, uma incomunidade entre indígenas-indigenistas-programadores. Para o estabelecimento de zonas de entre-domínios, realizaram oficinas de aprendizagem sobre o manejo do programa.
No entanto, ainda que a rede de pesquisadores permaneça ativa e que tanto indígenas quanto indigenistas sigam fazendo o trabalho de inserção de informações, o desenvolvimento digital do mapa está paralisado. Não há financiamento e um dos maiores desafios é manter seus dados e código atualizados, pois esse trabalho depende da colaboração de programadores e desenvolvedores. A exemplo do que Silvio Rhatto expôs na entrevista que compõe este dossiê de pesquisa, na qual aborda a perecibilidade dos equipamentos e a incompatibilidade atualizacional de seus programas, de alguma forma, o Mapa Guarani entrou na era do “Apodreceno”. Deixou de formar incomunidades: desenvolvedores e programadores interromperam a alimentação de sua máquina-mapa.
Dentre todo o circuito de devoração, talvez fosse preciso chamar para o banquete de códigos também os financiadores. Ainda que seja ao modo da predação familiarizante, é preciso torná-los aparentados, compartilhar com eles não apenas os códigos, os ingredientes da receita, mas também o modo e o tempo necessário ao preparo. Isto é, o compartilhamento da receita-código aberto entre indígenas, indigenistas e programadores não foi suficiente para manter a cadeia alimentar do Mapa Guarani em movimento. Nesta ciranda cosmopolítica, é preciso trazer à baila os financiadores, para que juntos possamos tecer acordos sobre os ciclos do tempo, em sua inexorabilidade e duração. Sabemos que em qualquer receita, se deixarmos tempo no forno demais o bolo queima, se de menos, o bolo sola. Sem essas tecnologias compartilhadas no tempo-espaço, sem lugares para a aprendizagem e trocas continuadas, não se faz comunidade – menos ainda estas que se apoiam em alianças heterogêneas entre incomuns.
Uma experiência de outras alianças possíveis é a proporcionada pela Rede Baobáxia, uma rede comunitária para a qual convergem quilombos, terreiros, favelas e periferias, junto a desenvolvedores e pesquisadores do Projeto Siwazi Rowaihuuze Auwe (rede de informação Xavante: conectividade, gestão de dados e apropriação da internet por povos indígenas). Sendo este último outra rede colaborativa em que estão implicados a Aldeia Wede’rã, Rede Mocambos e o Laboratório do Centro de Museologia, Arqueologia e Antropologia/ CEMAARQ da UNESP.14
Dessa aliança, dentre eles um coletivo de pesquisadores de uma universidade paulista com apoio e financiamento de uma fundação estatal, nasce a rede Baobáxia15 – uma Galáxia de Baobás, de memórias compartilhadas de territórios em uma mesma galáxia, debaixo dos baobás, que oferece uma rota possível para criar a metodologia e a tecnologia para escapar dos encontros de quase-morte,de que falam os Nambiquara.
Ela surge a partir do projeto dos Pontos de Cultura do Governo Federal, que a Rede Mocambos realizou utilizando material audiovisual, com conteúdos produzidos pelas comunidades e compartilhados durante as formações, através de pendrives. Nessas ocasiões, as comunidades perceberam a necessidade de criar uma tecnologia que envolvesse tambores, acervo e comunicação, trazendo como símbolo a ancestralidade do baobá. O objetivo era manter as memórias nos próprios territórios e facilitar a troca entre eles, por meio de tecnologia a serviço de sua liberdade e proteção. Uma tecnologia em software livre, feita em camadas. Ao invés de uma tecnologia P2P, usa-se Git: estrutura de pastas com a lógica de copiar para onde quiser – compartilha-se o metadado e depois pode-se gerenciar as cópias. A partir da parceria com o Siwazi, a tecnologia do Baobáxia continua em movimento e tecendo comunidade.
Um quase-fim: conclusões temporárias
Ao fim da oficina, nos direcionamos ao lago que margeia a Terra Indígena Guarani para refrescar o corpo. Um lago artificial, gerado após a inundação de parte do território pela construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Jovens e crianças Guaranis nadavam com desenvoltura em meio a uma série de troncos submersos de árvores que outrora compunham a paisagem local dos pampas. Desde o alto do que outrora eram árvores, mergulhavam em piruetas sob a superfície de águas violentamente pacificadas.
Mais cedo, enquanto pegávamos emprestado o sinal de wifi da escola local, um professor não indígena nos contou do artesanato local, aficionado pelo que chamou de “árvore da vida”. Diante dos animais trepados nos galhos da árvore mitológica, ele nos disse, é que os animais acharam refúgio da morte iminente por afogamento, produzindo assim, a possibilidade de vida. Curiosamente, os desenhos dos indígenas em oficinas, e, como vimos, não apenas destes Guarani que aqui nos acompanham, indicam que é desde o alto das árvores que acessam o parco sinal de internet em suas aldeias. A árvore é uma antena, um portal para o mundo novo que se abre. Porque para cada mundo que se finda, há outro que nasce.
Animais, crianças e jovens indígenas retomaram o domínio sobre e sob as águas. Mapearam as árvores e seus troncos submersos que verteram em trampolim. Ali, não mais tropeçaram nelas. Na retaguarda, não indígenas indigenistas e ativistas pela segurança digital seguiam desajeitados o rastro das rotas-picadas abertas pelos exímios nadadores ao sorriso das crianças. Uma aliança entre incomuns em uma mesma “ecologia política”, conceito que Isabelle Stengers (2018) formalizou para dar conta de um paradigma que ela denomina como “eto-ecológico”, uma união entre o oikos (espaço/ambiente) e o ethos (comportamento) dos seres que o habitam, cujos movimentos, entre um e outro, produzem efeitos que são sempre indeterminados.
A experiência Guarani diverge no tempo e no espaço da que se apresenta aos povos indígenas do Alto Rio Negro. Mas não há como dizer que chegarão ao mesmo final, porque o fim, disseram os Guarani, nunca acaba. Não há limite, alertou nosso amigo indigenista, usam o sinal de internet até o fim – e para cada senha reinventada, há um hacker a desvendá-la. Eis o hackeamento narrativo indígena: a retomada em seu domínio do domínio digitalizado – estão sempre produzindo os remos que Tupã lhes deu inteligência para criar. Mas como adentrar em domínios outros sem produzir para si um corpo ruim, um corpo para a morte – como aprender a remar?, insiste a liderança do Alto Rio Negro. A resposta, nos ensinam, é aparentar-nos – e para isso é preciso saber não apenas qual parte do outro deve ser ou não devorada, mas também a quem e com quem devorá-la junto. Segurança, antes de qualquer coisa, é resguardo.
A ecologia política de que nos fala Stengers coloca o sentido do termo político ao lado do cosmopolítico. Todo esforço de tradução de entre mundos e domínios que esse artigo versa faz parte deste esforço, entre dissensos e equívocos. Códigos abertos e não proprietários, receitas, chás, nuvens e rios voadores partem de agências que, de tão diversas, não podem ser negociadas pressupondo a ideia de um parlamento onde todos seriam iguais, neutros e cegos à diferença. Por fim, para que o céu e suas nuvens de fumaça não caiam sobre nossas cabeças, o que argumentamos é que a abertura a um mundo comum só é possível, até mesmo se em códigos-receitas-abertos, se partirem de uma comunidade em relação. Em uma palavra: de uma incomunidade.
Bibliografia
BELAUNDE, L. E. 2015. Resguardo e sexualidade(s): uma antropologia simétrica das sexualidades amazônicas em transformação. Cadernos de Campo, São Paulo, n. 24, p. 538-564.
DE LA CADENA, Marisol. 2018. Natureza incomum: histórias do antropocego. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. Brasil, n. 69, pp. 95-117, abril.
DIAKARA, Jaime, 2021. Pamürí yuküsiru: A viagem da vida na canoa da transformação. Cadernos SELVAGEM. Publicação digital da Dantes Editora Biosfera. Acessado no dia 08.09.2021
FAUSTO, Carlos. 2002. BANQUETE DE GENTE: COMENSALIDADE E CANIBALISMO NA AMAZÔNIA. MANA 8(2):7-44
_______________ 2008. DONOS DEMAIS: MAESTRIA E DOMÍNIO NA AMAZÔNIA. MANA 14(2): 329-366
HARAWAY, Donna. 2016. Staying with the trouble – making kin in the Chthulucene. Durhan and London: Duke University Press.
HEURICH, Guilherme. 2015. OUTRAS ALEGRIAS: CACHAÇA E CAUIM NA EMBRIAGUEZ MBYÁ-GUARANI. MANA 21(3): 527-552.
LASMAR, Cristiane. 2005. De volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro. São Paulo/Rio de Janeiro: Editora UNESP, ISA, NuTI.
PIERRI, D. C. 2013. O perecível e o imperecível: lógica do sensível e corporalidade no pensamento guarani-mbya. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo.
PIGNARRE, Phillipe; STENGERS, Isabelle. 2005. La sorcellerie capitaliste: pratiques de désenvoûtement. Paris: Découverte.
STENGERS, Isabelle. 2018. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 442-464, abr.
TSING, Anna. 2004. Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton University Press, Princeton, NJ.
VIVEIROS DE CASTRO, E. B. 2002. O nativo relativo. MANA 8(1):113-148.
________________________. 2008. Encontros. Organização Renato Sztutman. Rio de Janeiro: Beco do Azougue.
________________________. 2009. As metafísicas canibais. São Paulo: Cosac Naify.
1. Tomamos de empréstimo o termo “hackeamento narrativo” do projeto “hackeo cultural”, definido por seus idealizadores como: “Hacer de lo radical un sentido común. Narrativas insurrectas de código abierto. Defender la vida y el territorio; desarticular los sistemas de opresión un meme a la vez. Viva la cultura libre y los gifs de gatitos”. Disponível em https://hackeocultural.org/ (acessado em 16.9.2022). Agradecemos a Andreia Ixchíu e a Fede Zuvire por esse encontro de narrativas.
2. Nossa primeira visita à região do Alto Rio Negro no estado do Amazonas, aconteceu no mês de novembro de 2021, quando o vírus da Covid-19 dava sinais de abrandamento e todos os envolvidos nessa expedição estavam vacinados. Em março de 2021, tivemos o primeiro contato com algumas lideranças da região, organizadas em um conjunto de associações, com mais de vinte povos indígenas no desenvolvimento de sua economia, no monitoramento territorial e climático, na governança territorial realizada pelos próprios indígenas e no fortalecimento das associações de base comunitária. Com foco no uso da internet e da circulação de informações nos territórios indígenas no contexto da pandemia, realizamos entrevistas com quatro dessas lideranças.
3. Neste emaranhado de gente, há forte presença de militares. Município fronteiriço, acostumou-se com a lógica da vigilância e segurança estatal. A Igreja Católica marca presença na cidade por meio das missões Salesianas. São imensos prédios que abrigam escolas, onde muitos indígenas foram ensinados a esquecer sua cultura para consolidar o projeto colonizador. Vem daí o sucesso e a sagacidade dos indígenas que aprenderam muito bem a língua e a cultura do branco, mas que também souberam preservar sua cultura, que permanece viva.
4. Como recurso para marcar as diferentes narrativas que construímos com os povos indígenas Guarani e os do Alto Rio Negro, usaremos três fontes tipográficas distintas: uma para os Guarani, outra para os povos do Alto Rio Negro e, finalmente, uma para nós. As falas em discurso direto livre virão destacadas em itálico, em suas respectivas fontes.
5. Para fundamentar sua proposição acerca do Capitaloceno, Haraway inspira-se no livro de Isabelle Stengers e Philippe Pignarre (2005), La Sorcellerie capitaliste: Pratiques de désenvoûtement.
6. Para visualizar a conformação dos caminhos dos cabos de fibra ótica submarinos ver, por exemplo, https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_submarino (acessado em 15.9.2022)
7. Aludimos aqui ao que a autora Anna Tsing (2004) chamou de fricção: um conceito acionado para explorar políticas ambientais em defesa das florestas da Indonésia no cenário da globalização, a partir de diferentes agentes em zonas de atrito (frictions). De um lado mineradores, madeireiros e tomadores de recurso; de outro, povos indígenas e ambientalistas. Fricção é, portanto, um conceito-chave para compreender o conhecimento cosmopolita sobre a natureza, local e global, seja ele leigo ou científico.
8. A Constituição Federal do Brasil assegura a todas as pessoas o direito fundamental da liberdade de informação, dispondo em seu artigo 5º, no inciso XIV, que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. O inciso XXXIII do mesmo artigo diz: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. O Brasil possui ainda uma das mais modernas legislações regulatórias da internet, a Lei 12.965/14, mais conhecida como Marco Civil da Internet, que dispõe sobre Direito de Acesso à Internet e estabelece este como sendo um direito de todos e essencial ao exercício da cidadania. Define também seus termos técnicos, usuais na vida de todas nós, pessoas conectadas à rede.
9. Sobre rios voadores ver, por exemplo, https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/. Acessado em 8.9.2021
10. Trata-se de uma história há muito contada por membros da comunidade open source ao redor do mundo. Uma rápida busca em sites nos dá centenas de opções, como, por exemplo: https://www.itproportal.com/features/open-source-kitchen-a-recipe-for-security-success/ [acessado em 4.9.2022]. A aproximação prática entre a elaboração de um código de software livre e a feitura e venda de um bolo, por exemplo, possibilita uma imagem de aprendizado do cotidiano das pessoas. Tendo em vista os objetivos deste artigo, e que estamos falando com indígenas em seus territórios que parte de relações não mercantilizadas, faremos um uso particular desse enredo.
11. Trata-se de mecanismos de proteção e salvaguarda do corpo, com severas restrições alimentares e sexuais. Isso para que o corpo, em estado vulnerável a outros mundos, não deixe de pertencer, por regime de transformação e captura, ao mundo de seus parentes.
12. Ver https://guarani.map.as/#!/ Acessado em 8.9.2022.
13. Ver https://github.com/hacklabr/mapaguarani Acessado em 6.11.2022
14. Ver https://siwazi.fct.unesp.br/ Acessado em 8.9.2022.
15. Ver https://mocambos.net/tambor/pt/baobaxia Acessado em 9.9. 2022